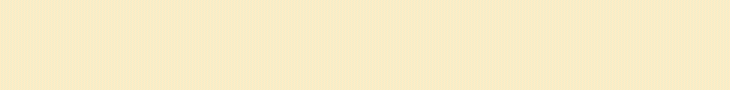No julgamento que chega ao fim esta semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é acusado de cinco crimes, cujas penas máximas somam mais de 40 anos de prisão:
- liderança de organização criminosa;
- tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
- golpe de Estado;
- dano contra o patrimônio da União;
- e deterioração de patrimônio tombado.
Dois deles — abolição violenta do Estado de Direito e golpe de Estado — estão previstos no artigo 359 do Código Penal, onde foram incluídos pela lei de crimes contra a democracia, de número 14.197, e sancionada pelo próprio Bolsonaro em 2021.
Mas por que Bolsonaro sancionou essa lei, que levou à revogação da Lei de Segurança Nacional (LSN), considerada por muitos como um “entulho autoritário” da ditadura?
E por que o então presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pautou o tema com urgência, sendo que ele era parte da base do governo Bolsonaro?
Entenda como uma derrota política sofrida por Bolsonaro em 2021, ainda na pandemia, agora pode resultar na ironia de o ex-presidente ser condenado por uma lei que ele mesmo sancionou.
A explosão no uso da Lei de Segurança Nacional sob Bolsonaro
A lei que definiu os crimes contra o Estado Democrático de Direito foi aprovada em 2021 para substituir a Lei de Segurança Nacional, de 1983.
Esta foi uma lei criada já no fim da ditadura militar, após o fracasso do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento do governo de Ernesto Geisel, e a eleição pelo Colégio Eleitoral, em 1979, de João Figueiredo para a Presidência.
Os militares começaram a perceber então que teriam dificuldade de permanecer no poder, em meio à crise econômica e à crescente pressão social e política.
“Eles perceberam que, mais hora, menos hora, teriam de sair do poder. Uma coisa é você sair chutado, a outra coisa é você sair negociando. Obviamente, eles optaram pela negociação”, lembra o sociólogo e jurista José Eduardo Faria, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e membro do Conselho de Inovação e Pesquisa da Fundação Getulio Vargas (FGV).
“Então, com isso, eles prepararam uma concepção de doutrina de segurança nacional e lançaram uma lei. Em 1983, essa Lei 7.170 institucionaliza o conceito de segurança nacional.”
A LSN definia crimes contra a integridade territorial, a soberania nacional e o regime democrático. Mas o principal problema da lei, explica Faria, é que ela era uma norma com conceitos abertos e, portanto, passíveis de interpretação.
“O que se punia não era estritamente o terrorismo como crime tipificado, mas quase todo tipo de antagonismo ao governo de plantão”, escreveu o jurista, em um artigo sobre o tema.
“Isso vai fazer com que, quando Bolsonaro é eleito, essa lei na mão de Bolsonaro dava um poder extraordinário a ele”, observa Faria, em entrevista à BBC News Brasil.
Nos primeiros dois anos de governo Bolsonaro, o uso da Lei de Segurança Nacional como base para inquéritos da Polícia Federal cresceu 285% em relação ao mesmo período dos governos Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB).
Foram 77 investigações entre 2019 e 2020, ante 20 inquéritos entre 2015 e 2016, conforme reportagem do Estado de S. Paulo à época, com base em dados obtidos via Lei de Acesso à Informação (LAI).
Os alvos eram opositores do governo Bolsonaro, como cinco manifestantes presos em Brasília, em março de 2021, após estenderem uma faixa com a frase “Bolsonaro genocida” em frente ao Palácio do Planalto. Jornalistas também foram processados com base na LSN à época.
A ameaça de autogolpe em meio à pandemia
“O Congresso começa a perceber então as loucuras do Bolsonaro”, observa Faria, autor do livro Degradação Democrática: o Brasil em Risco (Engenho das Letras, 2022).
O jurista lembra, por exemplo, de projeto de lei proposto em março de 2021 pelo deputado bolsonarista e líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), que, tendo a pandemia como justificativa, dava a Bolsonaro poderes absolutos, como o de mandatários em situação de guerra.
Pouco tempo depois, em 14 de abril daquele ano, Bolsonaro fez uma declaração que acendeu todos os alarmes dos demais Poderes, ao sugerir o que foi interpretado à época como a possibilidade de um autogolpe — quando um governante legitimamente eleito rompe as regras do sistema político para se manter no poder ou ampliar seus poderes.
“O Brasil está no limite. O pessoal fala que eu devo tomar providência, eu estou aguardando o povo dar uma sinalização. Porque a fome, a miséria e o desemprego estão aí”, disse Bolsonaro, em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, naquele abril de 2021.
“Aí a Câmara e o Senado, que não eram totalmente bolsonaristas, começaram a perceber. ‘Chega! Está demais. Isso vai ser uma loucura'”, lembra o professor da Faculdade de Direito da USP.
“Era um momento que ainda não era essa Câmara tão dominada assim [pela direita], ainda havia margem de negociação”, diz Raísa Ortiz Cetra, co-diretora-executiva da ONG Artigo 19, que participou dos debates para a aprovação da lei de defesa do Estado Democrático de Direito no Congresso, representando a sociedade civil.
“Houve uma grande convergência do campo democrático, inclusive do Centrão, de que era necessário revogar a LSN, e o bolsonarismo e a extrema direita ficaram isolados.”
Assim, pouco menos de seis meses após a fala de Bolsonaro que acendeu os alarmes quanto à possibilidade de um autogolpe em meio à pandemia, foi aprovada a Lei 14.197 de 2021, que revogou a Lei de Segurança Nacional, após 38 anos dela em vigor.
“A aprovação da lei, então, foi uma derrota para Bolsonaro à época, uma derrota muito difícil”, considera Faria.
As críticas da esquerda à época
A lei que redefiniu os crimes contra a democracia foi aprovada com base em dois projetos de lei que já tramitavam no Congresso há anos.
Um deles, de 1991, teve como autor o jurista e ex-deputado Hélio Bicudo (PT-SP).
O outro projeto foi apresentado em 2002 pelo jurista Miguel Reale Júnior, então Ministro da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB) — que ganharia notoriedade novamente anos depois, por ter sido o autor do pedido de impeachment de Dilma Rousseff.
Mas, apesar da “grande convergência do campo democrático” em torno de sua aprovação, como uma forma de revogar a LSN e conter os ímpetos autoritários de Bolsonaro, a lei foi alvo de críticas de movimentos sociais e organizações ligadas à esquerda ao longo de sua tramitação.
“Nunca fomos contra a aprovação de uma lei de proteção do Estado Democrático de Direito e muito menos do fim da Lei de Segurança Nacional”, diz Raísa Ortiz Cetra, da Artigo 19.
“Mas havia preocupações com a forma como a lei estava sendo debatida, sobretudo sua tramitação em caráter de urgência, que levou a uma completa ausência de debate público substantivo”, diz ela.
“E havia preocupações também quanto ao conteúdo, porque a lei reeditou muitos tipos penais da LSN, trazendo um foco punitivista para a questão”, considera.
A lei, sancionada com vetos de Bolsonaro, acrescentava no Código Penal um novo título, tipificando crimes contra o Estado democrático, incluindo:
- crimes contra a soberania nacional: atentado à soberania, atentado à integridade nacional e espionagem;
- crimes contra as instituições democráticas: abolição violenta do Estado democrático de direito e golpe de Estado;
- crimes contra o processo eleitoral: interrupção do processo eleitoral e violência política;
- e crimes contra o funcionamento de serviços essenciais: sabotagem.
“A grande crítica era que eram muitos tipos penais, que versavam sobre o mesmo tema. Muitos tipos penais abertos e com penas muito altas, que podiam fortalecer o já tradicional punitivismo de determinados setores da sociedade — estou falando de movimentos por direitos, movimentos sociais”, explica a diretora-executiva da Artigo 19.
Ela observa que algumas dessas fragilidades da lei, apontadas pela esquerda em 2021, agora são exploradas pelos advogados de defesa de Bolsonaro e dos demais réus no caso da tentativa de golpe, como a sobreposição de tipos penais e as penas elevadas.
Mas Cetra considera que parte desses problemas poderá ser resolvida pelos ministros do Supremo, na decisão desta semana, que deverá criar a jurisprudência para a aplicação da lei à frente.
Miguel Reale Júnior, autor de um dos projetos que serviu de base para a lei, considera as críticas feitas pela esquerda à época da tramitação da lei “exageradas” e “anacrônicas”.
“Era um pouco de exagero imaginar que a lei tivesse como finalidade atingir movimentos sociais, um pouco de visão anacrônica, imaginando que se estaria aplicando essa lei com os olhos da ditadura, quando nós estamos em plena democracia”, diz ele, em entrevista à BBC News Brasil.
Reale Jr. lembra ainda que a lei foi aprovada com um artigo que define claramente que “não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais”.
Ele também discorda da avaliação de que a lei teria um excesso de tipos penais, que se sobrepõem, são muito abertos e têm penas muito altas.
“Pelo contrário, o projeto que tinha sido encaminhado ao Congresso era bem mais longo, com vários tipos penais. Foram suprimidos muitos por pressão da esquerda, que via na criminalização de atitudes contra o Estado de direito resquícios de perseguição política.”
Raísa Ortiz Cetra avalia que, de fato, a lei melhorou bastante ao longo de sua tramitação, a partir das críticas da esquerda. Ainda assim, ela considera que o risco do uso da legislação contra movimentos sociais persiste.
Em janeiro de 2024, por exemplo, lembra ela, o crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito foi citado nos autos de prisões que ocorreram em protestos contra o aumento da tarifa de ônibus em São Paulo. Os processos, no entanto, foram arquivados este ano.
Bolsonaro, da sanção a alvo da lei
Para a diretora da Artigo 19, apesar dos problemas da lei, a aplicação dela contra Bolsonaro e os demais réus no caso da tentativa de golpe de Estado em julgamento no STF revela a importância de sua aprovação em 2021.
“Ela está sendo um instrumento importante na defesa da nossa democracia, mas não podemos descuidar de passar determinados limites que possam fragilizar a democracia em um outro momento”, considera.
Já Miguel Reale Jr. acredita que caberia a condenação dos réus atualmente em julgamento no Supremo apenas pelo crime de tentativa de golpe de Estado, pois ele já absorveria, no seu entendimento, o crime de tentativa de abolição do Estado democrático de direito.
A posição também foi defendida pelo ministro Luis Roberto Barroso nas ações envolvendo os réus do 8 de Janeiro.
“Eu acho que deve haver uma conjunção, ou seja, a absorção do crime de abolição dos poderes pelo crime de golpe de Estado, e acho que as penas são muito elevadas, que foram estabelecidas penas bases muito elevadas. Eu entendo que a pena justa deveria ser menor”, diz Reale Jr.
José Eduardo Faria, da USP, também avalia que o Supremo errou ao estabelecer penas muito altas para os réus do 8 de Janeiro. E que uma solução seria reduzir essas penas, para que penas mais altas possam ser aplicadas a Bolsonaro e aos demais réus do alto escalão da trama golpista.
Apesar de sua ponderação quanto à aplicação dos tipos penais e a duração das penas, Reale Jr. critica veementemente a possibilidade de anistia aos golpistas.
“Eu creio que é uma traição à democracia”, diz o jurista.
Segundo ele, a anistia cabe quando, com o passar do tempo, há uma redução do sentimento social negativo com relação ao fato alvo da anistia. Ou quando se está num processo de transição de um regime autoritário para um regime democrático, como em 1979. Ou para promover uma pacificação.
“Mas não existe pacificação quando os parlamentares defensores da anistia pedem a anistia praticando o crime que eles querem que seja anistiado”, diz Reale Jr., se referindo à ocupação da Mesa Diretora da Câmara por deputados apoiadores de Bolsonaro no início de agosto.
“Ou seja, eles querem que se anistie o crime de abolição dos poderes e praticam exatamente o crime de impedimento do exercício [do poder] da Câmara dos Deputados”, afirma.
Para o senador Rogério Carvalho (PT-SE), líder do governo no Senado e relator da lei em 2021, a aplicação da norma contra Bolsonaro e os outros membros de seu governo coloca fim ao sentimento de impunidade de setores da direita radical.
“Eles nunca imaginaram que os atos deles seriam alcançados por uma lei, porque eles não prestam muita atenção nisso. Eles não valorizam muito o que está na lei, o que está nos regulamentos, como funcionam as instituições. Eles agem a partir da força”, diz Carvalho.
Raísa Ortiz Cetra, da Artigo 19, concorda com essa avaliação.
“Naquele momento [em 2021], a gente conseguiu a aprovação da Lei de Proteção do Estado Democrático de Direito, sabendo que a democracia no Brasil estava em risco, mas sem saber concretamente que a gente viveria um 8 de janeiro. Foi um acerto muito grande do campo democrático, de ver que a gente ia precisar de um instrumento que tratasse desse tema”, diz ela.
“O campo bolsonarista tem uma certeza de impunidade. Ele [Bolsonaro] sancionou essa lei também, muito provavelmente, na expectativa de que não teria aplicação contra ele.”
Por Revista Plano B
Fonte Correio Braziliense
Foto: Reprodução